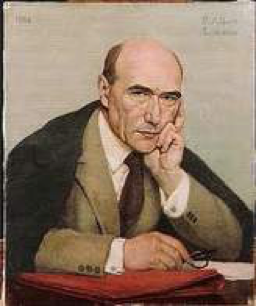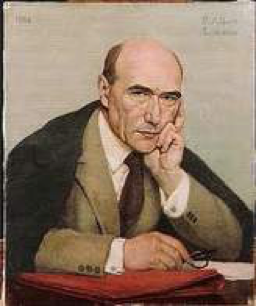
Este Filho Pródigo já foi citado aqui na Gaveta algumas vezes: as minhas visitas quase diárias à Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, nos anos 50, onde li a obra completa de André Gide numa bela edição suíça, copiando num caderninho esse “tratado” que me empolgou desde a primeira leitura; a determinação de traduzi-lo um dia; a consulta que fiz a Otto Maria Carpeaux sobre o significado de “au coin du tableau”; a laboriosa tradução completa dessa que foi a minha primeira tentativa de encarar um livro inteiro; e finalmente sua edição em volume, 30 anos depois, pela Nova Fronteira, em que se reuniam os cinco tratados originais: O Tratado de Narciso (Teoria do Símbolo), A Tentativa Amorosa ou O Tratado do Vão Desejo, Filoctetes ou O Tratado das Três Morais, Betsabé e, por fim, A Volta do Filho Pródigo. Pois agora chegou a vez de apresentá-lo na íntegra aos leitores deste blog.
O texto original estava cheio de insinuações e recados: na época em que foi redigido (1907), os amigos católicos de Gide (com Paul Claudel à frente) se esforçavam por convertê-lo ao catolicismo, ele que era a bem dizer agnóstico, embora tivesse tido uma formação protestante. Preparavam uma verdadeira festa intelectual para acolhê-lo, contudo Gide recuou no último instante e escreveu este A Volta do Filho Pródigo em que simboliza no Pai o próprio Deus cristão, na Mãe compreensiva a Igreja Católica e no irmão mais velho a doutrina cristã. (Para ele, São Paulo é o ordenador da fé, o criador do pecado, o instituidor das proibições, antagônicas ao pensamento e às atitudes livres que sempre assumira.) O relato segue em princípio a Bíblia (Lucas, XV, 11-32), que descreve a chegada do pródigo, sua acolhida pelo pai que lhe prepara uma festa de boas-vindas, e a discordância do irmão mais velho que nunca saiu de casa nem dilapidou a herança paterna; Gide lhe acrescenta dois novos diálogos: com a mãe compreensiva e com o caçula rebelde, concentrando neste último toda a sua filosofia da ruptura com os laços convencionais, sempre exibida em todas as suas obras.

O FILHO PRÓDIGO
Quando após longa ausência, fatigado de sua fantasia e como desprendido de si mesmo, o filho pródigo, do fundo dessa privação que procurava, lembra-se do rosto de seu pai, do quarto bastante amplo onde a mãe sobre o seu leito se inclinava, do jardim regado pela água corrente, mas cercado e de onde sempre desejou fugir, do irmão previdente a quem jamais amou, mas que guarda ainda à sua espera a parte de seus bens que ele, pródigo, não conseguiu dilapidar — o jovem reconhece não ter encontrado a felicidade, nem mesmo conseguido prolongar por muito tempo aquela embriaguez que, à falta de felicidade, procurou. — Ah! pensa consigo, se meu pai, que a princípio, irritado contra mim, me dera como morto, pudesse talvez, apesar de meu pecado, alegrar-se de me ver; ah! se acaso voltando humildemente, a fronte baixa e coberta de cinzas, e inclinando-me diante dele, lhe disser: “Meu pai, pequei contra o céu e contra vós” — que farei se, erguendo me com a mão, me responder: “Entra em casa, meu filho”? . . . E o filho contrito já se põe a caminho.
Já cai a tarde quando, do alto da colina, vislumbra finalmente as chaminés fumegantes do solar; mas ele espera que as sombras da noite possam velar um pouco mais sua miséria. Ouve ao longe a voz do pai; seus joelhos se curvam; cai por terra e cobre o rosto com as mãos, pois tem vergonha de sua própria vergonha, embora saiba que é o filho legítimo. Sente fome; não traz senão, numa dobra do manto esfarrapado, algumas bolotas de carvalho, com que se alimenta, igual aos porcos que outrora guardava. Percebe os preparativos do jantar. Distingue a mãe, que aparece na varanda…e, não aguentando mais, desce a correr a colina e avança pelo pátio, onde seu próprio cão, que não o reconhece, ladra contra ele. Quer falar aos empregados, mas estes, desconfiados, se afastam e vão prevenir o dono; ei-lo que chega.
Sem dúvida esperava o filho pródigo, pois o reconhece em seguida. Abre-lhe os braços; o jovem diante dele se ajoelha e, tapando o rosto com um dos braços, exclama, erguendo a mão direita ao perdão:
— Meu pai! meu pai! pequei gravemente contra o céu e contra vós; já não sou digno de ser chamado de filho; mas deixai pelo menos que eu, como um de vossos servidores, possa viver num canto qualquer de nossa casa . . .
O pai, erguendo-o, abraça-o:
— Meu filho! bendito o dia em que voltaste para mim!. — e chora na alegria que lhe transborda do coração; ergue a cabeça que havia inclinado sobre a fronte do filho para beijá-lo e volta-se para os servos:
— Trazei a mais bela das vestes; calçai de sandálias os seus pés e ponde-lhe um anel precioso no dedo. Buscai em nossos estábulos a mais gorda das reses e matai-a; preparai um festim de júbilo, pois o filho que eu julgava morto reviveu.
E vendo que a notícia já se espalha, corre; não quer que seja outro a dizer:
— Mãe, o filho que chorávamos nos foi restituído.
A alegria de todos, que se ergue como um cântico torna o primogênito pesaroso. Se se sentou à mesa comum, foi porque o pai, ao convidá-lo, insistiu com ele e obrigou-o a isso. Entre todos os convivas, pois até o mais humilde servidor foi convidado, ele é o único a mostrar o cenho franzido: Por que mais honrarias ao pecador que se arrepende do que a ele, que jamais, pecou? Prefere a boa ordem ao amor. Se consentiu em comparecer ao festim foi porque, dando crédito ao irmão, pode lhe dispensar a alegria de uma noite,· e também porque o pai e a mãe lhe prometeram morigerar o pródigo na manhã seguinte, além de ele próprio se preparar para repreendê-lo gravemente.
As tochas fumegam para o céu. O festim terminou. Os servidores levaram as travessas. Agora, na noite em que nem um sopro de brisa se eleva, a casa fatigada, alma após alma, vai-se recolher. Contudo, no quarto ao lado do filho pródigo, sei de um menino, seu irmão caçula, que a noite inteira até de madrugada em vão procurará dormir.
A REPRIMENDA DO PAI
Meu Deus, como um filho à vossa frente eu hoje me prosterno, o rosto de lágrimas coberto. Se rememoro e se transcrevo aqui vossa opressiva parábola, é por saber quem era o vosso filho pródigo; é que nele me reconheço; é que ouço em mim às vezes e repito em segredo aquelas palavras que, do fundo de sua grande miséria, vós o fizestes gritar:
— Quantos mercenários em casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a perecer de fome!
Imagino o amplexo do Pai; no calor de um tal afeto o coração me funde. Imagino até mesmo a penúria precedente; ah! imagino tudo o que quiserem. Eu creio em tudo isso; sou aquele cujo coração palpita quando, do alto da colina, revê os telhados azuis da casa que deixou. Que aguardo então para me lançar rumo à morada; para entrar? — Esperam-me. Já posso ver o novilho gordo que preparam…Parai! Não prepareis tão depressa o festim! — Filho pródigo, penso em ti; dize-me primeiro o que te falou o Pai, no dia seguinte ao festim de teu regresso. Ah! Pai, embora o primogênito vos sussurre, possa eu ouvir às vezes vossa voz através de suas próprias palavras! .
— Meu filho, por que me abandonaste?
— Ter-vos-ei de fato abandonado? Pai! não estais em toda parte? Jamais vos deixei de amar.
— Não porfiemos. Eu tinha uma casa que te abrigava. Ela foi erguida para ti. Para que tua alma nela pudesse encontrar abrigo, um luxo digno dela, e conforto, e um emprego, muitas gerações trabalharam. Tu, o herdeiro, o filho, por que te havias de evadir da Casa?
— Porque Ela me encerrava. A Casa não sois vós, meu Pai.
— Fui eu quem a construiu, e para ti.
— Ah! Vós não haveis dito isto, mas meu irmão. Vós, sim, haveis construído toda a terra, a Casa e tudo o que não é a Casa. A Casa, outros que não vós a construíram; em vosso nome, eu sei, mas outros que não vós.
— O homem tem necessidade de um teto sob o qual repousar a cabeça. Orgulhoso! Pensavas poder dormir ao relento?
— Será preciso tanto orgulho para isso? outros mais pobres do que eu o conseguiram.
— Mas isso são os pobres . Pobre tu não és. Ninguém pode abdicar de sua riqueza. Eu te havia feito o mais rico de todos.
— Meu pai, bem sabeis que ao partir levei comigo o quanto pude de riquezas. Que me importam os bens que não se podem carregar?
— Toda essa fortuna que levaste foi dilapidada loucamente.
— Mudei vosso ouro em prazer, vossos preceitos em fantasias, minha castidade em poesia, e minha austeridade em desejos.
— Seria para isso que teus pais previdentes porfiaram em destilar em ti tantas virtudes?
— Para que eu ardesse de uma chama mais bela, um novo fervor me iluminava.
— Pensa nessa pura chama que Moisés viu sobre a sarça ardente: ela brilhava mas sem se consumir.
— Eu conheci o amor que nos consome.
— O amor que te quero ensinar reconforta. Ao cabo de algum tempo, que te restou, ó filho pródigo?
— A lembrança desses prazeres.
— E a privação que vem depois.
— Nessa privação, eu me sentia perto de vós, meu Pai.
— Era preciso a miséria para te forçar a voltares a mim?
— Não sei; não sei. Foi na aridez do deserto que mais amei a minha sede.
— Tua miséria te fez sentir melhor o preço das riquezas.
— Não, isso não! Não me compreendeis, meu pai? Meu coração, vazio de tudo, encheu-se de amor. Ao preço de todos os meus bens, adquiri o fervor.
— Estavas então feliz longe de mim?
— Eu não me sentia longe de vós.
— Então, que te fez voltar? Fala.
— Não sei. A indolência, talvez.
— A indolência, meu filho! Então, não foi o amor?
— Pai, já vos disse, jamais vos amei tanto quanto no deserto. Mas estava cansado, cada manhã, de prover minha subsistência. Em casa, pelo menos, se come bem.
— Sim, os servidores provêm todo o necessário.
— Com que então, o que te trouxe de volta foi a fome.
— É possível também que a enfermidade, a covardia…afinal, essa alimentação fortuita me enfraquecia: pois me alimentava de frutos silvestres, de gafanhotos e de mel. Cada vez suportava menos o desconforto que, a princípio, me atiçava o fervor. De noite, quando tinha frio, pensava em minha cama arrumada em casa de meu pai; quando estava em jejum, lembrava que, em casa de meu pai, a abundância dos pratos sempre excedia a minha fome. Cedi; já não me sentia com coragem bastante para lutar mais tempo, com a força suficiente, e no entanto…
— Então gostaste do gordo vitelo de ontem?
O filho pródigo arroja-se soluçando de rosto contra a terra:
— Meu pai! meu pai! O gosto selvagem das bolotas de carvalho perdura ainda assim em minha boca. Nada conseguirá apagar-lhes o sabor.
— Pobre filho! — retoma o pai, que o ergue pelo braço. —Talvez te tenha falado com dureza. Foi teu irmão que o quis; é ele quem dita a lei aqui. Foi ele quem me intimou a dizer-te: “Fora da Casa não há salvação para ti.” Mas escuta: Fui eu que te formei; sei o que há em ti. Sei o que te impulsionava para os caminhos; eu te esperava ao fim. Se me chamasses… eu estaria lá.
— Meu pai! teria podido então encontrar-vos sem voltar? . . .
— Se te sentiste fraco, fizeste bem em vir. Agora, vai; volta para o quarto que mandei preparar para ti. Chega por hoje; repousa; amanhã poderás falar com teu irmão.
A REPRIMENDA DO IRMÃO MAIS VELHO
O filho pródigo trata a princípio de encará-lo com orgulho.
— Meu irmão mais velho — começa por dizer — , já nem nos parecemos. Não nos parecemos mais.
O irmão mais velho:
— A culpa é tua.
— Minha, por quê?
— Porque eu permaneci na ordem; tudo o que nos distingue é fruto ou semente do orgulho.
— Só posso ter de diferente os meus defeitos?
— Não tomes por qualidade senão o que te atém à ordem, e submete tudo o mais.
— Essa mutilação é que eu temia. Tudo isso que queres suprimir vem igualmente do Pai.
— Espera lá, não disse suprimir, mas submeter.
— Eu te compreendo bem. Foi exatamente assim que acabei subjugando as minhas virtudes.
— E é por isso que agora volto a encontrá-las em ti. Mas é preciso que as amplies. Compreende-me bem: não se trata de diminuição, mas de uma exaltação de teu ser o que proponho, na qual os elementos mais diversos e insubordinados de tua carne e de teu espírito devam sinfonicamente se integrar, na qual o pior de ti deva alimentar o melhor, e em que o melhor deva submeter-se a . . .
— Era uma exaltação também que eu procurava, que eu encontrei lá no deserto — e talvez não muito diversa da que agora me propões.
— Na verdade, o que pretendo é impô-la.
— Nosso pai não me falou com tal dureza.
— Bem sei o que te disse o Pai. É . Ele já não se explica muito claramente; de modo que é possível fazê-lo dizer o que se desejar. Mas eu conheço bem seu pensamento. Dentre os servidores sou seu único intérprete e quem quiser compreender o Pai deve escutar a mim.
— Eu o ouvia tão bem sem tua ajuda.
— É o que pensas; compreendias mal. Não há várias maneiras de se compreender o Pai; não há várias maneiras de ouvi-lo. Não há várias formas de amá-lo; a fim de estarmos unidos em seu amor.
— Em sua Casa.
— Este amor conduz a ela; aliás bem viste isto pois estás de retorno. Dize-me, agora: que te levou a partir?
— Sentia demais que a Casa não abarcava o universo inteiro . Eu próprio não me continha no ser que queríeis que eu fosse. Apesar de mim mesmo, imaginava outras culturas, outras terras, e caminhos a percorrer para chegar a elas — caminhos não traçados; imaginava em mim o novo ser que sentia lançar-se em direção a eles. Por isso me evadi.
— Pensa no que teria acontecido se eu, como tu, abandonasse a Casa do Pai. Os servidores e os bandidos iriam pilhar todos os nossos bens.
— Pouco importava então, pois vislumbrava outros bens . . . .
— Quanto exagerava o teu orgulho. Irmão, a indisciplina passou. Se ainda não sabes, logo conhecerás o caos de que o homem saiu. Ou antes: mal saiu; com sua carga natural, ele volta a tombar nele se o Espírito não o mantiver erguido. Não aprendas às tuas custas: os elementos bem ordenados que te compõem esperam apenas uma aquiescência, uma fraqueza qualquer de tua parte para retornarem à anarquia… Mas o que não saberás nunca será o tempo que o homem levou para chegar ao Homem. Agora que o modelo está concluído, mantenhamo-nos fiéis a ele. “Guarda firmemente o que possuis”, diz o Espírito ao Anjo da Igreja, e acrescenta: “a fim de que ninguém usurpe a tua coroa .” O que possuis é a tua coroa, e essa realeza sobre os demais e sobre ti mesmo . Tua coroa, o usurpador a espreita; ele está em toda parte: ronda ao teu redor, em ti. Segura firme, meu irmão! Segura firme.
— Há muito tempo que a larguei de mão, já não posso agarrar-me aos bens.
— Podes, sim; eu te ajudarei. Cuidei de teus bens durante a tua ausência.
— E, além do mais, essa palavra do Espírito, eu a conheço; não a citaste por inteiro…
— Na verdade, ela continua assim: “O que vencer, farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e dali não sairá.”
— “E dali não sairá.” É isso precisamente que me assusta.
— Mas se é para a tua felicidade.
— Oh! compreendo bem. Mas nesse templo eu já estava…
— Fizeste mal em sair, já que quiseste regressar.
— Bem sei, bem sei. Eis-me de volta, admito.
— Que bens poderás buscar lá fora que não haja aqui em abundância? ou melhor: somente aqui encon trarás teus bens .
— Já sei que guardaste minhas posses.
— A parte de teus bens que não conseguiste dilapidar, ou seja, a parte que nos é comum: os bens de raiz.
— Não possuo então nada de exclusivamente meu?
— Possuis; aquela parte especial de bens que o Pai consinta ainda em conceder-te.
— Isto é tudo o que eu quero; aceito não querer mais do que isso.
— Orgulhoso! -Não serás consultado a propósito. Essa parte entre nós é muito incerta: aconselho-te antes a que renuncies a ela. Esta parte de bens pessoais já te levou à perdição; seriam outros bens que dilapida rias em seguida.
— Os outros, eu não podia levar.
— Por isso irás encontrá-los intatos. Mas chega por hoje. Entra no repouso da Casa.
— Vem a propósito, pois me sinto fatigado.
— Bendita seja a tua fadiga, então! Agora, dorme. Amanhã a mãe te falará.
A MÃE
Pródigo filho, cujo espírito recalcitra ainda com os argumentos do irmão, deixa agora teu coração falar. Como te sentes bem, reclinado aos pés de tua mãe sentada, com o rosto apoiado nos joelhos dela, a sentir-lhe a mão que te acaricia a nuca rebelde!
— Por que ficaste tanto tempo longe de mim?
E como respondes apenas com tuas lágrimas:
— Para que chorar agora, meu filho? Foste-me devolvido. À tua espera verti todas as minhas lágrimas.
— Sempre estivestes à minha espera ?
— Jamais deixei de te esperar. Antes de dormir, pensava, a cada noite: se ele voltar ainda hoje, saberá como abrir a porta ? e levava muito tempo a dormir. Cada manhã, antes mesmo de levantar-me, pensava: Será hoje que ele voltará? Depois rezava. Rezei tanto, que tinhas certamente de vir.
— Vossas preces forçaram meu retorno.
— Não te rias de mim, meu filho.
— Ó mãe! eu volto com humildade. Vede como ponho minha fronte abaixo de vosso coração! Não há nem um só de meus pensamentos de ontem que não se tenha hoje tornado vão. Só agora compreendo, perto de vós, por que abandonei a casa.
— Não partirás mais?
— Não posso mais partir.
— Que então te atraía lá fora?
— Não quero mais pensar nisto: Nada . . . Eu mesmo.
— Achavas que podias ser feliz longe de nós?
— Não era a felicidade o que eu buscava .
— Que buscavas então? Buscava . . . quem eu era.
— Oh! filho de teus pais e irmão de teus irmãos.
— Eu não me parecia com meus irmãos. Não falemos mai disto: eis-me aqui de volta.
— Sim, falemos ainda: Achas teus irmãos assim tão diferentes de ti?
— Meu único anseio daqui por diante é parecer-me a vós todos.
— Dizes isto com uma espécie de resignação.
— Nada é mais fatigante que perceber nossa dessemelhança . Esta viagem ao fim de contas me cansou.
— É verdade que voltaste envelhecido.
— Sofri muito.
— Pobre filho! Sem dúvida não tinha cama feita todas as noites, nem tua comida posta à mesa?
— Comia o que encontrava pelo caminho e às vezes não era mais que frutos verdes ou podres com que alimentava a minha fome.
— Mas não sofreste, pelo menos, nada além da fome!?
— O sol do meio-dia, o vento frio do fundo da noite, a areia vacilante do deserto, as sarças em que meus pés se ensanguentavam, nada disso me deteve, mas — não disse a meu irmão — eu tive de servir…
— Por que não lhe contaste?
— A maus senhores que me maltrataram o corpo, exasperaram meu orgulho e me deram apenas de comer. Foi então que pensei: Ah! servir por servir! . . . Revi em sonhos a casa; resolvi voltar.
O filho pródigo baixa de novo a fronte, que sua mãe ternamente acaricia.
— Que irás fazer agora?
— Já vos disse: farei por me parecer com meu irmão mais velho; administrarei meus bens; como ele, tomarei esposa…
— Sem dúvida pensas em alguém, quando dizes isso.
— Oh! não importa qual seja a preferida, desde que vós a escolhais. Fazei como fizestes com meu irmão.
— Gostaria de escolhê-la de acordo com teu coração.
— Que importa! Meu coração já escolheu. Abdico de um .orgulho que já me levou para longe de vós. Orientai a minha escolha. Submeto-me a ela, afirmo-vos. Da mesma forma submeterei meus filhos; e minha tentativa assim não me parecerá tão vã.
— Ouve; há um menino aqui do qual já te podias ocupar.
— Que quereis dizer ? De quem falais?
— De teu irmão caçula, que tinha apenas dez anos, quando tu partiste, e que mal reconheceste ao voltar, mas que no entanto…
— Concluí, mãe; de que vos inquietais agora?
— E em quem no entanto tu te podias reconhecer, pois ele se parece em tudo com o que eras ao partir …
— Parece-se comigo?
— Com o que eras, já disse; ai, não ainda com este em que agora te tornaste.
— E em que ele se tornará em seguida.
— Em que é força evitar que se torne. Fala-lhe; ele sem dúvida te ouvirá, a ti, o pródigo. Dize-lhe do dissabor que encontraste no caminho; poupa-lhe…
— Mas por que vos alarmais assim por meu irmão? Talvez não passe de mera semelhança…
— Não a semelhança entre vós dois é mais profunda. Hoje inquieto-me com ele por não me ter a princípio inquietado o bastante por ti. Ele lê muito, e nem sempre prefere os bons livros.
— Então é isto apenas?
— Está sempre trepado nas árvores mais altas do pomar, de onde se pode ver, como sabes, o campo aberto, para além dos muros da casa.
— Eu me lembro bem. E isto é tudo?
— É mais fácil encontrá-lo rondando pelas terras do que ao nosso lado.
— E que faz por aí?
— Nada de mau. Acontece que em vez de buscar a companhia dos meeiros, ele prefere estar com os trabalhadores mais broncos, principalmente com os vindos de outras regiões. Há um, em particular, que lhe conta casos.
— Ah! o tratador de porcos.
— Este. Também o conhecias?… Teu irmão segue-o até o chiqueiro todo dia, só pelo prazer de ouvi-lo; volta a casa à hora do jantar, sem apetite, com as roupas emporcalhadas. As repreensões de nada adiantaram; teima em ir apesar das ameaças. Às vezes, de madrugada, antes que algum de nós tenha acordado, ele corre a acompanhar aos portões esse homem que leva os porcos a pastar.
— Ele sabe que não deve ir além dos portões.
— Também tu o sabias! Um dia escapará , estou segura disto. Um dia, há de partir…
— Não, mãe; irei falar com ele. Não vos preocupeis.
— Sei que, vindo de ti, ele ouvirá bastante. Viste como te observava na primeira noite? Que prestígio havia para ele em teus farrapos! e em seguida, no manto de púrpura com que o pai te recobriu. Temo que em seu espírito confunda uma coisa com a outra, e esteja mais atraído pelos farrapos do que mesmo pelo manto. Essa intuição, porém, agora me parece tola; pois, enfim, se tu, meu filho, pudesses prever tantas misérias, não te terias evadido, não é mesmo?
— Nem sei como pude deixar-vos, minha mãe.
— Pois bem! dize-lhe tudo isto.
— Amanhã certamente eu lhe direi. Dai-me agora um beijo na fronte como o fazíeis quando eu era criança e vínheis ver-me dormir. Estou com sono.
— Vai, dorme bem, meu filho. Vou para o meu quarto rezar por todos vós.
DIALOGO COM O IRMÃO MAIS NOVO
Ao lado de seu quarto há outro, também amplo e de paredes nuas. O pródigo, uma candeia à mão, por ele entra até o leito onde repousa o irmão mais novo, rosto voltado em direção à parede. Começa a falar em voz baixa para, se é que ele dorme, não lhe perturbar o sono.
— Meu irmão, quero falar-lhe.
— Pois fale; quem o impede?
— Pensei que você estivesse dormindo.
— Não é preciso dormir para sonhar.
— Ah! estava sonhando; com quê?
— Não importa! Se eu próprio já não compreendo meus sonhos, não há de ser você agora quem me vai explicá-los.
— Serão tão sutis assim? Mas, me contando, talvez pudesse tentar.
— Você, por acaso, podia escolher seus sonhos? Olha que os meus são como querem ser, mais livres do que eu . . . Que foi que veio fazer aqui? Por que perturbou meu sono?
— Você não estava dormindo, e vim para falar-lhe com carinho.
— Que me tem a dizer?
— Nada, se o toma nesse tom.
— Então, adeus.
O pródigo sai em direção à porta, mas apóia no chão a candeia que alumia debilmente o quarto, e, voltando, senta-se à beira da cama e afaga longamente, no escuro, a fronte do irmão, que está voltada contra ele.
— Você me responde com uma dureza com que eu jamais respondi a seu irmão. No entanto, eu também protestava contra ele.
O irmão rebelde ergueu-se de repente.
— Diga: foi o irmão quem o mandou?
— Não, menino; não foi ele, foi nossa mãe.
— Ah! você não teria vindo por si mesmo.
— No entanto, eu venho como amigo.
Semi-erguido no leito, o menino encara fixamente o pródigo.
— Como um dos meus poderia ser meu amigo?
— Você se engana quanto a nosso irmão…
— Não me fale dele! Odeio-o!… Meu coração inteiro se impacienta contra ele. Por causa dele foi que lhe respondi asperamente .
— Como assim?
— Você não compreenderia.
— Fale, mesmo assim . . .
O pródigo aperta-o contra o peito e o irmão adolescente deixa abrir seu coração:
— Na noite em que você voltou, não consegui dormir. Fiquei o tempo todo pensando: Tinha outro irmão, e não sabia… Foi por isso que meu coração bateu mais forte, quando o vi avançar pelo pátio da casa, todo coberto de glória.
— Santo Deus! eu vinha então coberto de andrajos .
— Sim, eu o vi, e o achei glorioso. E vi também o que fez o pai: pôs em seu dedo um anel, um anel que nem mesmo nosso irmão tem igual. Eu não quis perguntar nada a ninguém a seu respeito: sabia apenas que você vinha de muito longe, e seu olhar, à mesa . . .
— Então você estava no festim?
— Oh! bem sei que não me reparou; durante o tempo todo do banquete olhava para longe, sem ver nada. Que fosse, na segunda noite, falar com o pai, ainda compreendo, mas que na terceira…
— Termine.
— Ah! ao menos uma palavra de carinho bem me podia ter dito!
— Você me esperava então?
— E como! acha que eu odiaria assim nosso irmão se você não tivesse ido falar com ele e demorasse tanto aquela noite? Que poderiam dizer? Se você se parece comigo, bem sabe que nada tem em comum com ele.
— Cometi graves faltas contra nosso irmão.
— Será possível?
— Pelo menos para com nosso pai e nossa mãe. Você sabe que eu fugi de casa.
— Bem sei. Isto foi há muito tempo, não?
— Mais ou menos quando tinha a sua idade.
— Ah!… Ê isso que você chama de erros?
–Sim, este foi meu erro, meu pecado.
— Quando você partiu, achou que procedia mal?
— Não; sentia-me como na obrigação de partir.
— Que aconteceu depois, para que sua verdade de então se transformasse em erro?
— Sofri muito.
— E é isto que o faz dizer: estava errado?
— Não, não é bem isso: foi isto que me fez refletir.
— Então não havia refletido antes?
— Havia, mas a debilidade de minha razão se deixava impor por meus desejos.
— Como mais tarde pelo sofrimento. De sorte que, hoje então, você volta … vencido?
— Não é bem assim: resignado.
— Ou seja, renunciou a ser como queria.
— Que meu orgulho me persuadiu a ser.
O menino permanece um instante em silêncio, depois de súbito soluça e exclama:
— Irmão! eu sou igual a você quando partiu. Oh! diga-me: só encontrou decepções pelo caminho? Tudo o que pressinto existir lá fora, diferente daqui, não passa de miragem? Tudo o que sinto em mim de novo não é mais que fantasia? Fale: que havia de desesperador em seu caminho? Oh! que foi que o fez regressar?
— Perdi a liberdade que buscava; cativo, fui obrigado a servir.
— Aqui eu me sinto cativo.
— Sim, mas tive que servir a maus senhores; aqui, pelo menos, servimos nossos pais.
— Ah! servir por servir, não se tem pelo menos a liberdade de escolher a servidão?
— Eu achava que sim. Tão longe quanto puderam ir meus pés, como Saul a buscar suas jumentas, andei a perseguir o meu desejo; mas, onde esperava um reino só encontrei miséria . Contudo…
— Não se enganou de caminho?
— Fui caminhando sempre em frente.
— Tem certeza? Todavia, há outros reinos, ainda, e terras sem rei, a serem descobertas.
— Quem lhe disse?
— Eu sei. Pressinto. Parece até que já as conquistei.
— Orgulhoso!
— Ah! ah! foi isso o que nosso irmão lhe disse. Por que me vem agora repeti-lo? Por que você não conservou esse orgulho? Decerto não teria regressado.
— E assim não o teria conhecido.
— Teria, sim; lá, onde iria a seu encontro, decerto me reconheceria como irmão; mesmo agora, parece-me que é para encontrá-lo que eu sigo.
— Segue?
— Não percebeu? Não me encoraja igualmente a partir?
— Quisera poupar-lhe o retorno, dissuadindo-o da partida.
— Não, não, não me diga isto; não é isto que quer me dizer. Foi como um conquistador que você também partiu.
— E foi isso que me fez sentir ainda mais a servidão.
— Então, para que submeter-se? Já estava assim tão fatigado?
— Não, ainda não; mas tive dúvidas.
— Que quer dizer?
— Duvidava de tudo, de mim mesmo: quis parar, fixar-me enfim em qualquer parte; o conforto que esse patrão me prometia acabou tentando-me… sim, sinto-o perfeitamente agora: fracassei.
O pródigo inclina a cabeça e oculta os olhos com as mãos.
— Mas, e a princípio?
— Caminhei por muito tempo pela imensa terra inóspita.
— O deserto?
— Nem sempre era o deserto.
— E que buscava?
— Eu próprio não sei bem.
— Levante-se da cama. Olhe o que está ali na mesa de cabeceira, junto a esse livro em frangalhos.
— Uma romã partida.
— Foi o tratador de porcos que a trouxe numa tarde, depois de passar três dias fora.
— Sim, é uma romã silvestre.
— Bem sei; é de uma acidez quase insuportável; sinto, no entanto, que a morderia, se estivesse com bastante sede.
— Ah! agora eu lhe posso dizer: foi essa sede que eu buscava no deserto.
— Uma sede que só este fruto amargo consegue aplacar . . .
— Não: mas nos faz amar essa sede.
— Sabe onde colhê-lo?
— Num pequeno pomar abandonado, aonde se chega quase ao anoitecer. Já nenhum muro o separa do deserto. Ali corria um regato; alguns frutos, quase maduros, pendiam das ramagens.
— Que frutos?
— Os mesmos de nosso pomar, porém silvestres. Fizera calor o dia inteiro.
— Ouça; sabe por que o esperava esta noite? É que partirei esta noite. Hoje, de madrugada, ao clarear . . . Estou disposto a tudo e já tenho as sandálias calçadas.
— Como! pensa fazer o que eu não consegui? . . .
— Você me abriu o caminho, e me sustentarei de pensar em você.
— E eu em admirá-lo; mas trate de esquecer-me, em vez disso. Que vai levar daqui?
— Bem sabe que, sendo o último, não tenho direito à partilha. Vou sem levar nada.
— É melhor.
— Que está o1hando pela janela ?
— O horto onde repousam nossos mortos.
— Irmão . . . (e o menino, erguendo-se do leito, passa o braço em torno ao pescoço do pródigo, num gesto que se faz tão doce quanto a sua voz) — Venha comigo.
— Deixe-me! deixe-me! ficarei para consolar nossa mãe. Sem mim, você será mais corajoso. A hora está chegando. O céu empalidece. Parta sem ruído. Vamos! Abrace-me, meu caro irmão: você leva todas as minhas esperanças. Tenha força: esqueça-nos: esqueça-me. Que você possa nunca mais voltar… Saia, sem ruído. Eu seguro a candeia…
— Ah! dê-me a mão até a porta.
— Cuidado com os degraus do patamar …
*
Read Full Post »