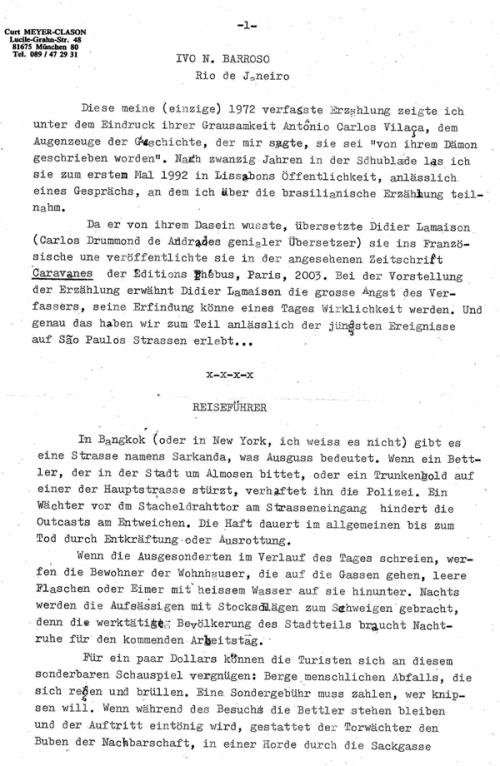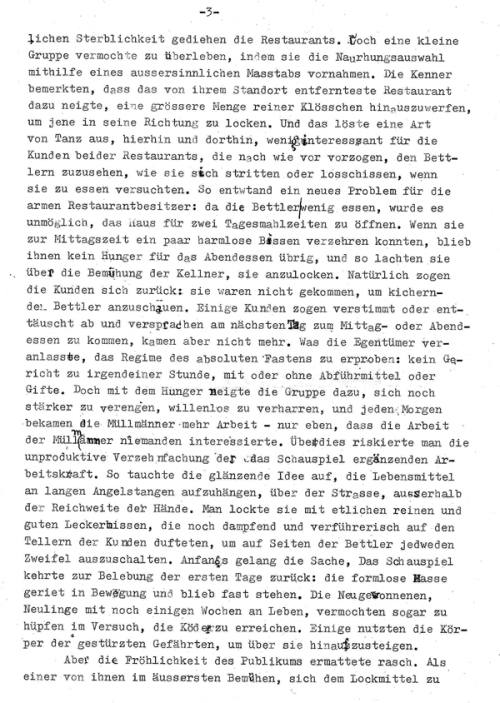Publicado precisamente há oitenta e três anos (1933), que impressão poderá causar no leitor de hoje este livro que tanto impacto provocou nos leitores de seu tempo? Com a vulgarização da epopeia através do cinema e da televisão, que força espantosa poderá revestir esta ficção para despertar ainda, nos dias atuais, um sentimento de grandiosidade, de sublime heroísmo, de desprendimento humano — enfim, de épico — que fez desta novela a ruidosa ganhadora do prêmio Goncourt daquele ano?
A garantia maior de que este livro representa um dos grandes romances de nossa época é precisamente a sua total capacidade de permanecer legível e empolgante até hoje, de ter enfrentado todas as grandes transformações político-sociais deste fim de século e milênio sem perder a vitalidade de sua narrativa, transformando-se por isso mesmo no que chamamos de um clássico. Romance engajado, sem ser embora um romance de tese, procurando apresentar sob ângulo favorável uma ideologia hoje esvaziada, nem por isso viu perder ou diluir-se sua qualidade literária, sustentada por um estilo novo à época mas que ainda se revela válido e atuante nos dias atuais.
O olhar crítico, não raro sardônico, que poderia ter o leitor de agora em relação à figura de Malraux, analisado dentro de uma perspectiva que abrange toda a sua vida (com suas transições de herói e aventureiro para o político e o burocrata) — e não apenas o momento glorioso em que compôs o livro — não consegue, nem mesmo assim, embaciar os reflexos luminosos de sua obra. É certo que nela podemos achar, diante das evoluções sofridas durante todos estes anos pelo tema principal — a revolução chinesa de 1927 — que muito da “ideologia” explicitada no romance há de soar pelo menos ingênua, para não dizer meramente romântica. Malraux escreve seu livro quando a revolução estava em processo e ameaçada, mas, apesar de depois traída e desfigurada, ela hoje aparece como triunfante e estabelecida, malgrado todas as contorções de crueldade e prepotência que em geral as revoluções trazem no seu bojo. Terá esse comunismo do plano real da China de hoje algo a ver com a idealização que dele fazem os personagens de A Condição Humana? O próprio Malraux, numa entrevista de 1973, declarou que “o ideário e a ação do livro escapam forçosamente a seu autor”, sabendo que seu romance, com o passar do tempo, não poderia ser sentido da mesma maneira que o fora por ocasião de seu aparecimento. É certo que a história, em seu desenvolvimento, ensejou novas perspectivas, que o ponto de vista dos leitores mudou. Como bem assinala Alain Meyer em seu comentário ao livro, o romance foi escrito “em cima de uma situação”, que evoluiu, mas a vida de A Condição Humana prossegue. Isso, em vez de tornar o livro perempto, o enriquece. Daí a necessidade de lê-lo ao mesmo tempo no passado e no presente.
André Malraux é um desses raros autores à maneira de Rimbaud que conseguiram realizar uma obra-vida, passando para o campo da realidade — ou vice-versa — o seu ideário artístico. Sua posição política será necessariamente a de um homem de esquerda, embora não radicalizada a ponto de assumir um comprometimento cego com o partido comunista. Seu espírito, sempre lúcido, permanece livre para discordar, para se opor ao banimento de Trótski, para se rebelar contra o regime de ferro de Stálin. Antifacista convicto, parte para a Espanha, onde forma e dirige uma esquadrilha de aviadores estrangeiros junto às forças republicanas contrárias a Franco. Durante a invasão alemã da França, na II Guerra Mundial, atua como maqui, comandando a brigada Alsácia-Lorena. Mais tarde, une-se ao general De Gaulle, de quem será um companheiro fiel até o fim. Eis aí, muito esquematicamente, em flashes distintos, como retratos de épocas diversas num álbum aberto ao acaso, alguns dos momentos culminantes desse que foi uma das maiores personalidades — para não dizer personagens — de nosso século. Nos anos 30, era a imagem perfeita do intelectual dublê de homem de ação; o aventureiro dotado de extraordinário senso crítico, profundo conhecedor de arte e de literatura. Chegou mesmo a criar um “tipo” físico, cuja aparência era imitada pelos jovens, como os de hoje imitam os superstars do esporte ou da música pop – – mecha de cabelo rebelde, cigarro nervoso nos lábios, olhar febril e inspirado; e, a partir da Guerra de Espanha, o blusão ou o macacão de aviador. Mais tarde, imitaram-lhe o estilo literário, à exaustão, podendo-se dizer que Albert Camus foi o resultado vitorioso na suplantação do modelo. Facilmente constatamos que tudo isso mudou, que o artista de nossos dias de desconstrutivismo está mais propenso à inação, cultor do álcool, das drogas e da promiscuidade, com tendência a produzir necessariamente uma literatura de anti-heroísmo, de. antisublimidade, de antiépico enfim, mergulhado que está nas partes mais lodosas e individualizantes desse ser que é o homem moderno, condenado ao niilismo e à autodestruição. Dentro dessa ótica é muito difícil encontrar um lugar para este livro que é a exaltação da “amizade viril”, da ação social, da tentativa de restabelecimento da dignidade para o ser humano. A menos que o vejamos como essa luz que sempre se espera nas situações desesperadas.
Em 1931, Malraux, em companhia de sua mulher Clara, foi comissionado (e financiado) pela editora Gallimard para fazer uma viagem de volta ao mundo com a finalidade de reunir elementos para uma exposição destinada a mostrar o relacionamento do mundo grego com o budismo. O itinerário incluía a Pérsia, o Afeganistão, a índia, Cingapura, Cantão, Xangai, a Mandchúria, o Japão e Nova York, etapa final onde os Malraux tiveram que esperar dez dias pelo envio de fundos por parte dos mandatários, que afinal lhes mandaram um bilhete azul, destituindo-os da missão. Em agosto-setembro daquele ano, o casal se encontra em Xangai, donde segue em visita à China central, antes de partir para a Coréia e o Japão. Da China, até aquela data, Malraux só havia conhecido Hong-Kong, e apenas no âmbito da concessão britânica, numa breve visita em abril de 1925. Nessa segunda passagem por lá, conta sua mulher, Clara Malraux (Voici qui vient l’été, Bernard Grasset, 1973) que “nesse ano da graça de 1931, antes de seguir para o Japão, depois de haver passado pelas índias frutuosas, penetramos na China, pela primeira vez Xangai, depois Cantão. Em Xangai sentamo-nos diante do mais comprido balcão de bar do mundo (Morand dixit), eu para beber um rosé e descobrir que não há nada meIhor, depois de passarmos um mês sem engolir sequer um fragmento de verdura, do que mastigar talos de aipo cru, André para beber não sei o quê e sem dúvida comer batatas fritas. No cais fervilhavam riquixás, autos e bondes, fumaça de carvão, de petróleo, excrementos, suores de brancos e amarelos se casavam. De tempos em tempos, um homem se esgueirava, rápido, entre os veículos em disparada, na esperança de que alguma roda passasse em cima do corpo invisível do mau espírito que o atormentava. Cantão, onde transcorre a ação de Les Conquérants, Cantão, semelhante e diversa do quadro que `ele’ dela fez. Força do mito embalador do irreal, tremendamente maior que a da realidade. Eu, só via a realidade, uma pequena realidade fervilhante, mais parecida a um fogo-fátuo que a uma pítia; brincalhona, um tanto maliciosa, admirativa também, saltitava em torno a `ele’. `Foi mesmo aqui que você teve tal gesto, aqui que você disse isso ou aquilo, que sua iniciativa lhe permitiu…?’ Ele se irritava um pouco. Outros, sem dúvida teriam se irritado bem mais. Um ou dois dias mais tarde, fez-me saber que seu próximo romance se transcorreria ali naqueles lugares e me perguntou o que eu achava de A Condição Humana como título.”
O livro começa no dia 21 de março de 1927, ou seja, relata “acontecimentos” ocorridos havia quatro anos. Malraux consegue, no entanto, dar-lhes um tom de reportagem “ao vivo”, como se participando fisicamente da ação. Fantasista até a sofreguidão, apesar da realidade quase ficcional em que vivia, ele sempre alimentara uma “biografia paralela”, uma espécie de vida “em caixa dois”, onde se atribuía desempenhos e ações que só se passavam em seu wishful thinking. Já antes de A Condição Humana, André Malraux havia conquistado seu espaço literário com as narrativas de La Tentation de l’Occident (1926), Les Conquérants (1928) e La Voie Royale (1930), mas em todas elas o escritor ainda se mostra monocórdio, a ação centrada sempre sobre personagens quase intercambiáveis, que pouco se diferenciam uns dos outros. Embora nos dois últimos já se encaminhe para o romance de ação, as idéias e reflexões ainda sufocam o desenrolar da trama. Com A Condição Humana, Malraux atinge finalmente seu momento “polifônico”, ou no dizer de Pierre de Boisdeffre (em seu estudo André Malraux, testemunha do século XX, in Métamorphose de Ia littérature, 1963), “por fim seus personagens — e nisto reside a verdadeira conquista literária — vão individualizar-se: Clappique, Ferral, Gisors são seres plenos, vivos, autônomos, que nossa memória não pode confundir.”
A narrativa reveste-se de um tratamento tão “cinematográfico” que quase pode ser lida como um script. Não seria absurdo afirmar que Malraux tivesse, desde o início, a intenção de transformar seu romance em filme, ou a de escrever um romance para ser filmado, como procede a maioria dos autores de best sellers modernos. Em todo caso, a técnica era novidade à época, o que assegurou o caráter de ineditismo da obra. A “tomada” inicial do livro mostra o terrorista Tchen no ato de assassinar um traficante de armas num quarto de hotel. A cena transcorre a princípio em completo silêncio. O homem está dormindo num somiê sob um cortinado pendente do teto e Tchen hesita entre atingi-lo com sua arma através do cortinado ou erguer o cortinado para atingilo. O olho do autor (ou da câmera cinematográfica) faz um close do pé da vítima que parece mais vivo que todo o corpo adormecido. Mas não é só o efeito câmera que domina a cena – o autor provê igualmente a iluminação (“A única luz provinha do edifício ao lado: um grande retângulo de eletricidade pálida, cortado pelas grades da janela, umas das quais riscava a cama precisamente por cima do pé como para acentuar-lhe o volume e a vida” ) — e a sonoplastia do momento (“Quatro ou cinco buzinas soaram a um só tempo”). Segue-se a descrição do assassínio cota o mesmo realismo gritante dos filmes noirs atuais, a lâmina que atravessa o corpo, o corpo rechaçado pelas molas do colchão, a mão paralisada empunhando a arma. E não falta nem mesmo a presença do imprevisto surreal dos filmes impressionistas alemães com o aparecimento súbito das orelhas de um gato projetadas contra a parede do quarto. Gato que Tchen persegue até a varanda e de repente-.grande angular- as luzes da cidade lá embaixo, a volta ao mundo das pessoas vivas. Impossível não se ouvir a música incidental irrompendo com toda a força…
Há outra cena que se tornou um verdadeiro clichê cinematográfico: Tchen, após assassinar (`Assassinar não é só matar”, diz ele para si mesmo) o traficante de armas, vai à sua célula comunicar o resultado aos companheiros que o esperam: “Uma loja cheia de discos. cuidadosamente arrumados, com um vago aspecto de biblioteca municipal; depois os fundos, um quarto espaçoso e nu, e quatro camaradas, em mangas de camisa. Ao se fechar a porta, a lâmpada oscilou: os rostos desapareceram, reapareceram: à esquerda, rechonchudo, Lu-Yu-Dhuen; a cabeça de boxeador arrebentado de Hemmelrich, cabelo raspado, nariz partido, ombros caídos. Ao fundo, na sombra, Katov. A direita, Kyo Gisors; ao lhe passar por cima da cabeça, a lâmpada marcava fortemente os cantos caídos de sua boca de estampa japonesa; ao se afastar, deslocava as sombras e aquele rosto mestiço parecia quase europeu. As oscilações da lâmpada tornaram-se cada vez mais curtas: as duas faces de Kyo reapareciam a cada vez menos e menos diferentes uma da outra “. Ou ainda esta, repetida até hoje: “A rua deserta. Um riquixá, ao longe, atravessou-a. Um outro. Dois homens saíram. Um cão. Uma bicicleta. Os homens viraram à direita; o riquixá atravessou. Rua deserta de novo; só, o cão…” E que pode ser mais cinematográfico do que a fuga de Clappique, disfarçado de marinheiro e empunhando uma vassoura a subir pela escada do navio? Um momento inesquecivelmente chapliniano!
Era natural que, após o êxito do romance, Malraux buscasse sua transposição cinematográfica. Em 1934, quando foi a Moscou participar de um congresso de escritores, teve oportunidade de visitar a Mezrabpoumfilm, onde lhe prometeram estudar uma versão cinematográfica do livro. A adaptação seria feita por Joris Ivens, o metteur en scène e documentarista holandês, ou pelo cineasta soviético Alexandr Dovchenko, e o diretor nada mais nada menos que Sergei Eisenstein, com música de Dimitri Chostakóvitch. Mas o projeto não avançou: houve interferência da censura stalinista, severos cortes foram impostos ao argumento. Eisenstein confidenciou a Malraux: “Quando fiz o Potemkin, deixavam-me em paz porque eu era desconhecido e me davam seis semanas para fazer o filme, e se a coisa não desse certo, pior para mim. Eu tinha 27 anos. Mas agora não vou pedir uma audiência a Stalin, porque, se ele não compreender meu ponto de vista, só me restará o suicídio.”
O desejo de transformar A Condição Humana em filme porém não se arrefeceu com esse primeiro insucesso. (Trinta e cinco anos mais tarde, outra tentativa: a MGM interessou-se pelo projeto, que teria Carlo Ponti como produtor, com Fred Zimmermann na direção. Mas fracassa de novo.) Porém, Malraux teve que se contentar com a proposta de Meyerhold para uma adaptação teatral do romance, com música incidental de Prokofiev. Mas nem mesmo essa chance ocorreu. A peça só foi estreada vinte anos depois, em dezembro de 1954, no Théâtre Hébertot, numa adaptação de Thierry Maulnier, com encenação de Marcelle Tassencourt, que representou igualmente o papel de May. Evidente que um argumento em que a ação predomina sobre a palavra não poderia resultar numa peça de sucesso. As digressões filosóficas de Gisors, as perorações proselitistas de Tchen, as falas amargas de Kyo tornaram-se mero palavrório sem o sustentáculo da intensa ação em que elas se integram. Malraux, que chegou a rodar cenas de um filme na Espanha, com roteiro tirado de seu livro L’Espoir (1938-39), morreu (1976) sem ver sua obra-prima transposta para o cinema. Parece fatalidade que o mais cinematográfico dos livros não tenha encontrado até hoje o seu realizador.
Mas a grandeza da narrativa não se fundamenta apenas em sua estrutura cinematográfica. Malraux aliou a ela um estilo tenso, de imagens fortes e percucientes, com frases extremamente trabalhadas às vezes no intuito de levar o leitor a um misunderstanding, que só se esclarece após uma releitura atenta. Utiliza uma pontuação muito pessoal e um sistema de notação dialogal que mistura aspas e travessões nem sempre de maneira canônica. Na tradução, esforçamo-nos por manter essas características. Contudo, o que ressalta eloqüente é tomar como enredo o instante mais drámatico da História de seus dias, trabalhá-lo como um depoimento pessoal, uma experiência vivida, dar-lhe um tom de reportagem fragmentária e transfigurá-lo à força da inteligência e profundidade dos diálogos. Malraux, testemunha do mundo moderno.
Mais tarde, em seu livro Les Voix du Silence, de 1951, irá dizer: “A arte não tem que copiar o mundo, mas recriá-lo.” Assim entendido, temos que A Condição Humana, nascida de uma tentativa de transformar a História em ficção, acaba por transcender a própria História, o que nos permite hoje ler o livro abstraindo a existência real e passada de uma revolução chinesa em 1927 para senti-lo como uma narrativa atemporal em que predominam comportamentos arquetípicos talvez oriundos das tragédias gregas.
O Malraux que havia mitificado a arte é hoje uma testemunha do futuro.