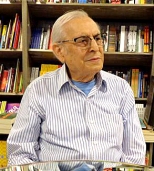Convidado pela Escola Lacaniana de Psicanálise a participar do “Ciclo de Debates – Shakespeare 400 anos”, pronunciei no dia 25 do mês de novembro, na Livraria da Travessa do Leblon, uma palestra sobre os sonetos de Shakespeare. Comecei dizendo que praticamente tudo já havia sido dito sobre o autor, que suas peças, poemas, personagens, frases ou mesmo palavras foram submetidas a análises e geraram livros; que sua vida fora escrutinada por várias gerações de scholars, cada qual aportando novos detalhes que as ciências investigativas atuais lhes proporcionavam. E que, portanto, seria inútil de minha parte querer abordar quaisquer desses aspectos, sempre controversos, podendo-se, aliás, encontrá-los em grande número de livros inclusive em português. De minha parte, só lhes poderia falar de algo que não achariam nesses livros: da perplexidade de um tradutor diante de um soneto de Shakespeare.
Continuei esclarecendo sobre a estrutura do soneto inglês, que difere do nosso (chamado italiano ou petrarquiano) em sua organização estrófica: enquanto neste último temos a evidência de duas quadras e dois tercetos, no inglês o que observamos é um bloco de dez versos seguidos de um dístico (parelha de versos), habitualmente rimados entre si. Chamei a atenção dos ouvintes não versados em arte poética para ressaltar que um soneto, tanto o inglês quanto o italiano, se constitui de versos iguais, geralmente de dez sílabas métricas, e rimados em parelhas (o 1º com o 3º, o 2º com o 4º, etc.]. No inglês, os dois versos finais, rimam entre si. Disse também que o público não familiarizado com a tradução de poesia pode pensar que a transposição linguística de um soneto consista apenas na substituição dos vocábulos de uma língua pelos de outra, e que – deixando de lado a métrica e a rima – o resultado em prosa poderá ser mais fiel ao original do que as tentativas da tradução em versos. Para afastá-los dessa ingênua suposição, tomei como exemplo (e princípio de exposição) o soneto I de Shakespeare, que teria em português a seguinte transcrição literal (palavra por palavra extraídas de um dicionário):
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory;
Das mais lindas criaturas desejamos aumento (acréscimo)
Para que assim a rosa da beleza nunca deva morrer,
E se a madura (desabrochada) deva com o tempo fenecer
Sua tenra herdeira deve guardar sua memória.
Ora, se no original temos uma série de imagens expressas por meio de um ritmo constante (icto ou acento nas sílabas pares), que o torna sintético e cadenciado e de fácil entonação
From//fair/est//crea/ tures//we//de/sire/in/crease/)
2 4 6 8 10
e observarmos que este verso apresenta duas aliterações, uma em f (From e fair) e outra em crea (creatures e increase), logo verificaremos que a tradução em prosa não passa de um torpe simulacro, de uma imitação arrastada e grosseira daqueles versos que nos soaram, em inglês, tão sonoros e apropriados a exprimir a ideia que continham. Logo estaríamos diante de uma contrafação, como se mastigando duramente uma carne de gato em vez de degustar um saboroso peito de lebre.
Assim, uma das perplexidades do tradutor de poesia e, principalmente da alta poesia de Shakespeare, é a necessidade de transpor para o seu idioma um verso de dez sílabas métricas (que são diferentes das gramaticais, por tratarem apenas de sua duração sonora) cujo sentido corresponda ao que foi dito em inglês, observando a forma como foi dito, se possível com as mesmas palavras (ou equivalentes), permitindo-se leves deslocações ou substituições que não afetem o sentido imediato da frase. O inglês é uma língua quase inteiramente monossilábica e palavras como creatures, cuja equivalência imediata em português seria criaturas, tem, em inglês apenas duas sílabas (crea-tures, pronuncia-se cri-tches), enquanto em português tem quatro (cre-a-tu-ras). Um recurso imediato para contornar o problema é o de encontrar um sinônimo com um número menor de sílabas, e aqui a solução é quase imediata: seres, em vez de criaturas. Já temos então: Dos seres mais lindos …, podendo-se logo eliminar o comparativo mais sem alterar em quase nada o sentido da frase. Continuando: Já temos Dos seres lindos desejamos… Para o increase, equivalente a incremento podemos novamente recorrer à sinonímia e encontrar prole, que é exatamente o sentido do termo; agora então temos Dos seres lindos ansiamos prole, verso perfeito, inclusive com ictos (acentuações) nas 2ª, 4ª, 8ª e 10ª sílabas. Além disso, a palavra final prole enseja boas possibilidades de rima (substantivos e verbos). Mas o tradutor atento e perceptivo verificará que algo da técnica do verso ficou faltando; sabemos que nele, em inglês, havia duas aliterações (em ff e crea/crea); na tradução já temos a de seres e desejamos; que tal tentarmos mais uma. A solução foi mudar o verbo desejamos por ansiamos e mudar lindos por ímpares, com o que obtivemos uma quase aliteração em ímpares e prole, e o verso ficou mais ritmado e sonoro. No verso seguinte, flor do belo traduz perfeitamente o beauty’s rose e o não se extinga equivale ao never die. No 3º verso, para o riper (mais madura) temos rosa madura e para by time decease (morrer pelo tempo) usamos um verbo mais forte, extinguir. No 4º verso, tender heir (tenro herdeiro) temos fresco botão (=rosa em botão) e ao bear his memory (manter sua memória) do original correspondemos com sua memória vinga, para efeito de rima (extinga/vinga), que no entanto reforçou a ideia da sucessão floral. Note-se por fim que foi ainda necessário manter-se as rimas do 1º com o 3º verso (prole/colhe) e do 2º com o 4º (extinga/vinga). Esse mesmo tipo de análise poderia prosseguir pelos demais versos, e por outros sonetos onde encontraríamos jogos de palavras, polissemias, palavras de duplo sentido, neologismos, arcaísmos, palavras inventadas, etc. etc. que o tradutor consciente deve esmerar-se em reproduzir.
Para finalizar, vamos citar apenas um exemplo de isofonia, ou seja, a de verso imitativo do som do objeto descrito. Ocorre no soneto XII em que o poeta, falando de um relógio (clock, em inglês), procura imitar com palavras ritmadas o som do tique taque de um relógio de parede
(When I do count the clock that tells the time)
Utilizando-se das aliterações em count e clock e das 4 seguidas that tells the time, que tentamos reproduzir em português com
Quando a hora dobra em triste e tardo toque
valendo-nos, igualmente, das aliterações (hora e dobra / triste e tardo toque), passíveis de imitar o som do tique taque.

Meu interesse pelos Sonetos de Shakespeare remonta a várias décadas. Um caderno escolar, com três escoteiros na capa, o do meio empunhando uma descomunal bandeira do Brasil, trepado sobre um pedestal onde se lê, a tinta azul – Traduções – me assegura que já em 1947/48 eu andava às voltas com Amado Nervo, Émile Lante, Siegfried Sassoon, Manuel González Prada, Baudelaire (L’homme et la mer), o Anônimo espanhol (No me mueve, mi Dios) e… Shakespeare: nada menos que o Soneto XXIX, traduzido em alexandrinos
When in disgrace with fortune and men’s eyes
I all alone, beweep my outcast state,
And trouble deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself, and curse my fate,
Wishing me like to one more rich in hope,
Featur’d like him, like him with friends possess’d,
Desiring this man’s art, and that man’s scope,
With what I most enjoy contented least;
Yet in these thoughts myself almost despising,
Haply I think on thee, – and then my state,
Like to the lark at break of day arising
From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate;
For thy sweet love remember’d such wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.
(Tradução primitiva em alexandrinos)
Quando, longe da vista humana e da fortuna,
Choro, triste e sozinho, ao ver-me desterrado,
E o surdo céu meu pranto inútil importuna,
Eu olho para mim a maldizer meu fado,
Querendo ser alguém mais rico de esperança,
Parecer com esse alguém, ter amigos serenos,
Desejando-lhe a sorte, os intentos que alcança,
E, do que mais aspiro, estar contente, ao menos;
Ainda, nesse pensar, quase me desprezando,
Recordo-me de vós, retorna-me a alegria
E ponho-me feliz, como a calhandra, entoando
Hinos ao claro céu, cá da terra sombria;
Pois só de em vós pensar, tão rico me fazeis
Que o meu destino, então, não dou pelo de reis.
(Versão editada em decassílabos)
Se, órfão do olhar humano e da fortuna,
Choro na solidão meu pobre estado
E o céu meu pranto inútil importuna,
Eu entro em mim a maldizer meu fado;
Sonho-me alguém mais rico de esperança,
Quero feições e amigos mais amenos,
Deste o pendor, a meta que outro alcança,
Do que mais amo contentado o menos.
Mas, se nesse pensar, que me magoa,
De ti me lembro acaso – o meu destino,
Qual cotovia na alvorada entoa
Da negra terra aos longes céus um hino.
E na riqueza desse amor que evoco,
Já minha sorte com a de reis não troco.
O que mais me chama a atenção hoje nessa primeira tentativa é a disposição dos versos no caderno, feita à maneira do soneto petraquiano, isso talvez porque eu desconhecesse, à época, a notação inglesa ou achasse que conservá-la fosse contrariar minha noção estrutural de soneto. Devo ter encontrado o original inglês em algum livro escolar, e o copiasse dessa forma ainda que discordasse dela ou a achasse equivocada. Daí, na tradução, ter “restaurado” a forma habitual das duas quadras e dois tercetos, sem o que, para o tradutor de então, não estaria produzindo um soneto. Mesmo assim há, nesses versos, soluções que sempre me agradaram, principalmente a primeira linha, Quando, longe da vista humana e da fortuna, em que o in disgrace do original (equivalente a “sem as graças, sem o favor, sem a consideração dos homens”), foi sintetizado no advérbio longe da vista, como evocando o velho ditado “longe da vista, longe do coração”. Mais tarde, quando tive que remanejar os versos em decassílabos para publicação em livro, acabei optando por órfão, que dava a ideia de abandono, de ausência, distanciamento, e se encaixava no número de sílabas de que eu necessitava. No segundo verso encontrei em desterrado o mesmo conceito de outcast (banido, proscrito), e o I all alone beweep está bem transposto por choro triste e sozinho, sendo que o triste aí pode equivaler ao reforço (cavilha) representado em inglês pelo advérbio all. A versão decassilábica foi menos feliz: meu pobre estado está longe de evocar o outcast do original, e o adjetivo pobre é realmente muito pobre nesse verso. O terceiro reproduz exatamente o sentido do original tanto em alexandrinos quanto em decassílabos, mas a primeira versão é mais abrangente por ter conservado o adjetivo em surdo céu (deaf heaven), que tive de sacrificar na versão decassilábica. O pranto inútil importuna traduz bem o trouble… bootless cries, além de fornecer uma rima bastante rica para o fortuna do primeiro verso. Eu olho para mim a maldizer meu fado corresponde linearmente ao I look upon myself and curse my fate, e foi melhorado, graças a já algumas leituras clássicas por ocasião da transposição decassilábica, em Eu entro em mim a maldizer meu fado, de sabor camoniano. Se o quinto verso consegue permanecer próximo do original em ambas as versões, já o sexto, por força da rima, sofre um bom desvio: o original fala em “possuir amigos” (with friends possess´d) , mas as versões “acrescentam” que eles são serenos ou amenos. O sétimo verso diz, literalmente no original, “desejando (ter) a arte de um (dos amigos) ou o objetivo (de outro deles)”. Na primitiva versão, o pronome lhe equivale a esses desejados amigos, mas a arte de um deles se transforma em sorte, embora os intentos que alcança corresponda grosso modo a that man´s scope. A versão decassilábica foi mais feliz com deste o pendor, a meta que outro alcança, restaurando a alternância das qualidades de um amigo e de outro. O oitavo verso é mais difícil até mesmo em sua interpretação; em termos prosísticos seria algo como “minimamente contentado daquilo que mais aprecio”, acreditando A.L. Rowse que seja isto uma referência à profissão de ator de Shakespeare: “É possível que em seus momentos de depressão, se achasse insatisfeito com o que lhe dava mais prazer: a representação”. Essa ideia não ocorre na versão inicial mas se aproxima bastante na decassilábica: Do que mais amo contentado o menos, inclusive guardando a oposição mais/menos do original (most/least). O nono verso da tradução alexandrina conserva o verbo desprezar (despising), enquanto a decassilábica, por força da rima, transforma o desprezar em magoar. Seguem-se então os belíssimos versos, que em versão literal grosseira dizem: “Ainda em meio a esses pensamentos, a ponto de me desprezar, por sorte penso em ti, e então o meu estado (de ânimo) como a cotovia, ao raiar do dia, da soturna terra, ergue (cantando) hinos às portas do céu”. Ambas as versões procuram seguir as linhas do original, mas é curioso observar que na inicial a palavra correspondente a lark foi calhandra (calandra) e no outro cotovia. Por que eu teria dado preferência a calhandra? Provavelmente por achá-la mais “clássica”ou ter usado um dicionário português. O dístico final é uma pedra de toque: “Pois teu doce amor lembrado (pois a recordação de teu doce amor) me traz tamanha riqueza que eu então não me digno de trocar meu estado (minha situação) com (os) reis”. Na versão inicial usei “vós” para traduzir thy, mas na decassilábica (e em todo o livro, aliás) optei por “tu”. O tão rico me fazeis da versão primeira é um bom equivalente para o such wealth brings e é mais direto do que o decassilábico na riqueza desse amor que evoco; a rima final (kings/reis) é bem mais expressiva do que evoco/troco, embora esses versos finais decassilábicos sejam bastante fluentes em português. Na primeira, o state original virou destino, enquanto que na segunda, para economia de sílabas, transformou-se em sorte. Um probleminha: na primeira versão evitou-se usar pelos dos reis, preferindo-se de reis.

No final dos anos 50, já devia ter uns quatro ou cinco prontos, com os quais obtive uma espécie de passe livre nas páginas do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, sob a égide de Mário Faustino e Reynaldo Jardim. Recordo-me que entre esses estava o LXXI (“Não lamentes por mim quando eu morrer”), que me granjeou a simpatia de Manuel Bandeira.
A fase de trabalhos sitermáticos, no sentido de traduzir um considerável número deles, só ocorreu na Holanda, nos anos 1968/70, onde me deparei, pela primeira vez, com uma coleção completa dos 154 sonetos, numa edição bilingue (inglês/neerlandês), traduzidos por W. van Elden, que minha timidez não me impediu no entanto de conhecer. Foi com a tradução de seu prefácio que passei a ter consciência das dificuldades a que se expunha, em qualquer língua, quem intentasse traduzir os sonetos shakespearianos querendo manter-lhes o ritmo, os jogos de palavras, as polissemias e duplos-sentidos, o vocabulário ora erudito ora popular, a riqueza de ambientes, cores, tons, sem falar nas metáforas peculiares e nos recursos formais que funcionam como elementos gestálticos. Diz van Elden: “Shakespeare conseguiu extrair da forma soneto tudo o que ela poderia dar. Por meio de infinitas variações métricas e do uso de todos os recursos poéticos, como aliteração, rimas internas, antíteses, repetições e trocadilhos, logrou um resultado quase inatingível. E tudo isso com tal facilidade e naturalidade que os recursos técnicos podem até passar despercebidos a quem não procurá-los expressamente.” O clima neerlandês terá certamente contribuído para a obsessão de “trabalhar” a tradução dos sonetos até conseguir preservar a maior parte possível de seus elementos, a manutenção da ordem das proposições, os recursos estilísticos, sem abrir mão de seu trânsito poético pelo território da língua portuguesa. Outro caderno, já dessa época, na verdade um bloco de notas (100 vel prima houtvrij schrijfpapier met lynen), atesta a quantidade absurda de tentativas de transposição de um único verso, como o inicial do soneto I (From fairest creatures we desire increase), com suas duas aliterações sucessivas (em fr e em cre), até chegar ao equivalente “Dos seres ímpares ansiamos prole” (se/si e pa/pro), pois ora se obtinha a aliteração mas havia a discrepância da rima, ora aquela não se encaixava na métrica, sem falar em nossa recusa permanente aos circunlóquios ou transposições.
Da Holanda trouxe 24 sonetos que, revistos, foram editados pela Nova Fronteira em livro de luxo destinado a bibliófilos, em 1973, com o título de 24 Sonetos. Numa segunda estadia na Europa, dessa vez com uma passagem pela Inglaterra, a obsessão continuou, acrescida então de bom número de instrumentos críticos, com o intento de elevar o número de peças traduzidas para trinta, com vistas a uma edição comercial que veio à luz em 1991 (30 Sonetos). Posteriormente, as edições cresceram para 42 (2005) e mais tarde para 50, desta vez em duas edições (2012 e 2015). A essa altura, já havia o convívio com edições integrais de renome, como a da Oxford (ed.W. J. Craig) e a da Pelican (ed. Douglas Bush), e a frequentação de autores fundamentais como Stephan Booth, W.G. Ingram e Theodore Redpath, John Dover Wilson, Kenneth Muir, Robert Giroux e A.L. Rowse, com suas notas e comentários elucidativos, além de estabelecimentos de texto. O precioso livrinho Shakespeare’s Wordplay, de M.M. Mahood, mostrava as intenções ocultas e as sutilezas verbais que certamente escapariam sem a sua ajuda. E da joia rara, aquela cujas notas representavam uma espécie de bíblia-guia dos Sonetos – procurada em todos os grandes alfarrabistas de livros raros por onde andei – A New Variorum Edition – que só fui conseguir em cópia xerográfica na Biblioteca Real de Estocolmo nos fins dos anos 80. Houve também a obsessão de examinar o maior número possível de traduções, principalmente as francesas, a partir da de François-Victor Hugo, que eu já conhecia desde o Brasil. Mas a França me reservou uma grande decepção na pessoa de Henri Meschonnic, incensado professor da Sorbonne, com seu livro Poétique du traduire (Verdier, 1999), em que arrola impiedosamente oito traduções francesas do soneto XXVII (Weary with toil, I haste me to my bed), num período que vai de 1887 a 1992. Depois de detonar todos os seus antecessores, Meschonnic apresenta a sua versão, que longe de ser perfeita, nada tem de poética, além de passar voando por sobre o magnifico jogo de palavras do 4º verso, em que Shakespeare brinca com as nuances de work como verbo e como substantivo (To work my mind, when body´s work´s expir´d) e que ele canhestramente traduz por Que le corps epuisé, l´esprit ravage. Nem sempre o conhecimento teórico assegura a realização poética…
Ao longo de todos esses anos que vimos nos dedicando à transposição desses versos imortais, se houve quase sempre a sensação de incompletude, a frustração de não conseguir a desejada semelhança, a mesma riqueza e elevação de tom que prevalece no original, por outro lado alguma vez nos visitou a alegria de ter produzido um ou outro verso que espelhava um momento satisfatório de nossa própria realização poética.
Read Full Post »